Me lembro de quando assisti Pulp Fiction: Tempo de Violência pela primeira vez. Eu tinha meus 15 anos de idade e fiquei confuso sobre o que pensar do filme. Bastou uma reprisada e eu soube: aquilo era uma obra-prima. Fiquei obcecado pelo cinema do diretor Quentin Tarantino. Revisitei Cães de Aluguel (Reservoir Dogs, 1992), e passei a aguardar ansioso pelos próximos lançamentos envolvendo o nome do cineasta. Jackie Brown (1998), a saga Kill Bill (2004), Bastardos Inglórios (Inglorious Basterds, 2009) e Django Livre (Django Unchained, 2012), todos excelentes exemplares da maneira única do diretor de fazer cinema. Mesmo quando derrapa, no caso de seu filme mais recente até então, o western Os Oito Odiados (The Hateful Eight, 2015), Tarantino encontra uma maneira de se conectar com seu público. Tarantino construiu sua carreira em cima da celebração de seus filmes preferidos, sempre os referenciando com suas obras. Com este Era Uma Vez em Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood, EUA/UK, 2019), ele saúda o processo de se fazer cinema em si, e ainda que eu considere seu novo filme outra derrapada em sua carreira, há muito a ser dito sobre ele. Tarantino consolida suas habilidades como diretor e roteirista e as aplica em uma vasta concepção da indústria cinematográfica no ano de 1969. O problema é que apesar das louváveis intenções do diretor em escrever uma carta de amor para Hollywood, o filme simplesmente não tem um plot definido. Era Uma Vez em Hollywood mescla o feel da Hollywood pré-Charles Manson com o surgimento do movimento hippie, e o resultado é uma instável mistura cultural, que ganha tons exuberantes graças ao estilo inigualável do diretor. O filme também toma diversas liberdades históricas, e permite que sua monstruosa dupla de protagonistas, Leonardo DiCaprio (coadjuvante de luxo do diretor em Django Livre), e Brad Pitt (protagonista de Tarantino em Bastardos Inglórios), brilhem em encantadoras performances.

Independente do resultado irregular, há ambição de sobra no filme, e o roteiro de Tarantino costura tantas linhas narrativas distintas que a produção acaba criando um deslumbrante ritmo para si mesma. O núcleo narrativo de Era Uma Vez em Hollywood consiste em uma comédia com pitadas de buddy movie sobre o ator de televisão Rick Dalton (DiCaprio), cujo papel na série “Bounty Law” lhe rendeu elogios mas poucos convites para atuar no cinema. Seu devotado dublê, Cliff Booth (Pitt), tem de lidar com sua própria tímida carreira, uma vez que sua reputação já foi manchada há muito tempo e agora o que lhe resta é servir como motorista de Rick. Não que Rick tenha lá muitos lugares para ir: cansado de interpretar o vilão em participações nada especiais em programas obscuros na televisão, Rick chegou à uma encruzilhada na carreira, que espelha o momento da própria cultura americana da época.
Entram em cena os hippies. A gangue do psicopata Charles Manson dá as caras na história, especialmente na figura da jovem e sedutora Pussycat (Margaret Qualley, de IO: O Último na Terra e Donnybrook, cujas críticas também estão disponíveis aqui no Portal do Andreoli), que troca olhares com Cliff em algumas ocasiões enquanto ele roda pela cidade. O filme então introduz os vizinhos de Rick, o diretor Roman Polanski (Rafal Zawierucha), e sua esposa, a radiante Sharon Tate (a bela Margot Robbie, em uma performance bastante sutil). Tarantino imagina a atriz como uma afável presença que não tem muito a fazer além de rodar pela cidade, em um dado momento até entrando em um cinema que está exibindo um de seus filmes. Há um sentimento de sinceridade nestas pequenas cenas que sugerem que a afeição de Tarantino por Tate é profunda e verdadeira, apesar de suas cenas carregarem a tensão que deriva do fato de sabermos que a verdadeira Sharon Tate viria a ser assassinada vários meses depois do ponto de partida do filme. A nuvem negra da história permeia até mesmo as cenas mais leves, e gera um intrigante suspense (similar à outras ficções históricas do diretor), em torno de como o cineasta resolverá a inerente tensão.


Contudo, esta resolução é apressada, contraprodutiva e simplesmente não vai ao ponto. Isso se deve ao fato de que o núcleo de Era Uma Vez em Hollywood gira em torno do rico e peculiar miolo do filme, que transcorre durante um longo dia e que é repleto de circunstâncias capitais para a trama, e tamanha descompensação entre o meio do filme e sua parte final influencia bastante no ritmo da experiência como um todo. Desde aquele discurso sobre a Madonna que abria Cães de Aluguel, Tarantino se especializou em criar arquétipos cinematográficos familiares e a aprofundá-los com detalhes irreverentes e inspirados, incorporando-os totalmente na narrativa. Aqui, entretanto, os fascinantes personagens parecem soltos dentro do roteiro, e as situações parecem se suceder uma após a outra sem um objetivo definido, se resumindo à: Rick e Cliff passando o tempo no set, Cliff passando o tempo em casa ao lado de sua cadela Rottweiler (que rouba várias cenas do filme), e Rick passando o tempo no set de um de seus westerns para a TV ao lado de sua parceira de cena de oito anos de idade. Fica a impressão em certos momentos de que Era Uma Vez em Hollywood se concentra apenas nisso: Deixar o tempo passar. De qualquer forma, Tarantino possibilita que seus atores façam seus shows, e Pitt e DiCaprio deitam e rolam em atuações que já entram na galeria das inesquecíveis do cinema.
Ao mesmo tempo, Tarantino brinca com intrincadas sequências impulsionadas por uma extrema e constante imprevisibilidade. A melhor destas sequências mostra Cliff seguindo Pussycat até um rancho abandonado, o qual a comunidade satânica de Manson transformou em seu ameaçador covil. Enquanto Cliff roda pela propriedade e um exército de mulheres o encara, Tarantino constroi o clima perfeito para um grandioso duelo de faroeste. A cena não chega a lugar nenhum, mas é justamente este o ponto do diretor: a alegria está no processo de filmagem, não importa os finalmentes. O que neste caso acaba sendo até bom, uma vez que Era Uma Vez em Hollywood também não chega a lugar nenhum, particularmente. Os prazeres do filme estão nos pequenos momentos, desde nostálgicos easter eggs e referências a outros trabalhos do próprio Tarantino, até as cativantes vinhetas comuns nos filmes do cineasta. Nada supera, por exemplo, a imagem de DiCaprio à beira das lágrimas, enquanto experimenta a catarse criativa que acompanha uma boa performance em cena de seu Rick Dalton. É simplesmente o momento mais honesto da carreira de Tarantino em três décadas de trabalho.
Outra gigantesca qualidade da produção é sua maravilhosa recriação de época. Tarantino sabe recriar universos como ninguém, e aqui ele constroi uma inacreditável janela visual com vista para o passado. A fotografia impecável de Robert Richardson (colaborador habitual do diretor e três vezes ganhador do Oscar), transforma Los Angeles em uma metrópole colorida que simultaneamente emula a inocência da América pré-anos setenta, com sua posterior perda no início da referida década. Não é por acaso que o filme se passa em 1969. Aliás, nada é por acaso no cinema de Quentin Tarantino. O trabalho de Richardson carrega ecos do fenomenal trabalho do grande Robert Elswit no filme de Paul Thomas Anderson, Vício Inerente (Inherent Vice, 2015), que situa o espectador em meio à montanhosa geografia da cidade e suas luzes de néon. O design de produção à cargo de Barbara Ling (Lembranças de um Verão, Sem Reservas), é outro assombro; quando Cliff acelera seu carro pela cidade de Burbank, é como se ele estivesse dirigindo dentro de um documentário.
No final das contas, Era Uma Vez em Hollywood é uma implacável fantasia bem ao estilo que Tarantino tem trabalhado em seus projetos mais recentes. Com uma sensacional química entre seus protagonistas e apoiada em longos e numerosos diálogos (como sempre acontece no cinema do diretor), a produção traz até um monólogo de um dos assassinos que fazia parte do culto de Charles Manson, onde ele discorre sobre a romantização da violência no mundo do entretenimento, o que soa como se Tarantino estivesse colocando a si próprio na mira de sua obra. No mais, e sem jogar nenhum spoiler no colo de vocês leitores, o filme embarca no mesmo tipo de revisionismo histórico que permeia outro trabalho recente do diretor (vocês sabem de qual estou falando). E depois de se segurar consideravelmente em seu trabalho anterior, o muito mais convencional Os Oito Odiados, aqui Tarantino se liberta de qualquer tipo de amarra e viaja com propriedade na maionese histórica, e como Era Uma Vez em Hollywood faz questão de deixar bem claro, é impossível conter um bom e velho showman.
Era Uma Vez em Hollywood estreia nos cinemas brasileiros no dia 15 de agosto.
![]()
![]()

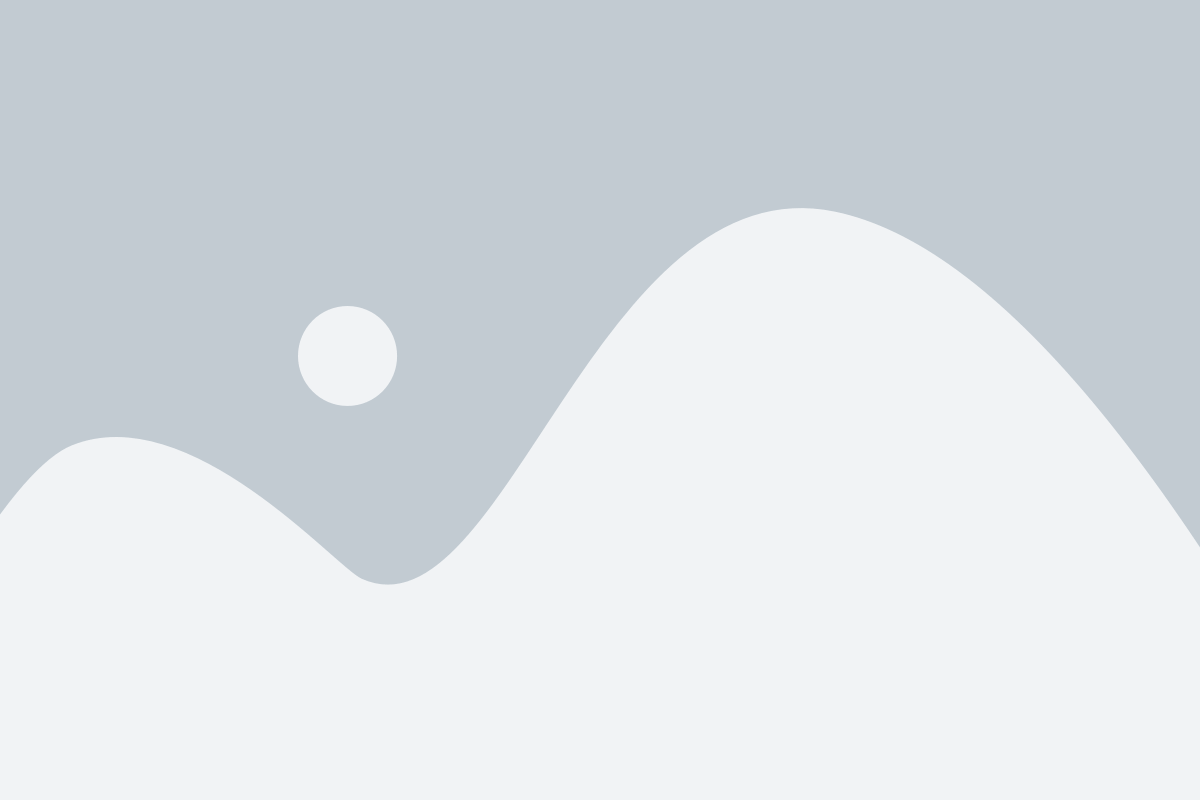




Uma resposta
Bem, o que mais me cativou – e realmente clamou pela minha atenção no filme – foi a visão da gente “de bem” interpretada pelos dois amigos e da gente “riponga” interpretada pelos hippies, neste desfilar de histórias entremeadas – algumas verídicas e outras ficcionais – do genial diretor. O ator desiludido com sua trajetória incendeia uma atacante do grupo de Manson quase sem querer e o aparentemente tranquilo amigo em realidade é atroz em sua violência e oposição massacrante a tudo aquilo que ele vê como confronto. Portanto, há uma enorme crítica nada velada a tudo que é hollywoodiano e rico – o dito mundo dos bons – e a tudo que é contra o sistema e pobre (o mundo hippie de 1969). Na violência final confrontada, recontando a história da família do Rancho Spahn, Sharon Tate acaba revivida e Dalton sente-se melhor como ator reconhecido ao menos por ela. E toda a nostalgia melancólica de época é aqui bem retratada e recontada pelo cineasta. Recomendado, um nove merecido!